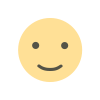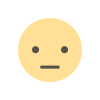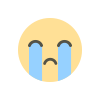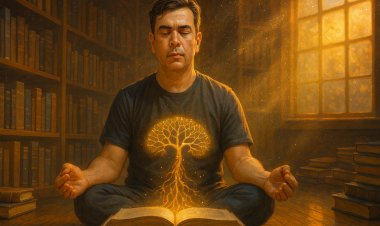Soberania não é álibi
A soberania só possui legitimidade quando sustentada por democracia real, pois regimes nascidos da fraude e da repressão não podem invocar o Direito Internacional como escudo para a própria ilegitimidade.

Há palavras que, quando repetidas à exaustão, perdem o sentido e passam a servir como escudo retórico. Soberania é uma delas. Invocada sempre que regimes autoritários se veem pressionados, ela costuma aparecer desacompanhada de seu conteúdo essencial: legitimidade democrática. Sem esta, soberania deixa de ser princípio jurídico e passa a funcionar como álibi político.
O debate em torno da Venezuela escancara esse paradoxo. Quando se cogita, ainda que em hipótese analítica, uma ação internacional que resulte na captura de Nicolás Maduro, a reação imediata é acusar violação da ordem internacional. Poucos, no entanto, se dispõem a enfrentar a pergunta central: que ordem é essa que protege governos nascidos da fraude, sustentados pela repressão e associados a estruturas criminosas transnacionais?
O Direito Internacional Público evoluiu justamente para lidar com situações-limite. A soberania nunca foi um cheque em branco. Ela pressupõe um Estado que represente sua população, respeite direitos fundamentais e se submeta a regras mínimas de convivência internacional. Quando o poder deixa de emanar do voto e passa a depender exclusivamente da força, o vínculo entre Estado e sociedade se rompe. O que resta é aparato, não legitimidade.
A eleição presidencial venezuelana de 2024 cristalizou esse rompimento. Contestada por observadores independentes e sem reconhecimento amplo da comunidade internacional, ela aprofundou a percepção de que o regime já não se sustenta por consentimento, mas por coerção. O reconhecimento externo de Edmundo González Urrutia como vencedor legítimo não é gesto simbólico; é um deslocamento do eixo jurídico-político que redefine quem, de fato, detém a representação democrática do Estado venezuelano.
Nesse cenário, a exclusão de María Corina Machado do processo eleitoral revela algo ainda mais grave: a captura completa das instituições. Um Judiciário que serve ao Executivo não atua como poder, mas como instrumento. Pode preservar a forma, mas perdeu o conteúdo. E, sem conteúdo democrático, decisões judiciais tornam-se juridicamente frágeis, ainda que formalmente válidas.
É nesse ponto que o debate internacional se torna desconfortável. Se um chefe de Estado responde a acusações criminais em tribunais estrangeiros, associadas a crimes transnacionais, e já não detém mandato legitimado pelo voto, até onde vai sua imunidade? A resposta honesta é incômoda para muitos diplomatas: ela não vai tão longe quanto se finge acreditar. A imunidade funcional existe para proteger o exercício legítimo do cargo, não para blindar práticas ilícitas.
Uma eventual ação liderada pelos Estados Unidos, sob a influência política de Donald Trump e articulação de Marco Rubio, evidentemente suscitaria debates sérios sobre proporcionalidade, legalidade e esgotamento de vias diplomáticas. Esse escrutínio é necessário e saudável. O erro está em fingir que a alternativa é a neutralidade absoluta, quando, na prática, ela apenas perpetua o status quo autoritário.
A reação de governos da região, como o do Brasil sob Luiz Inácio Lula da Silva, ao classificar qualquer hipótese de ação como afronta à soberania venezuelana, revela uma leitura excessivamente formal do Direito Internacional. Proteger fronteiras enquanto se ignora a destruição da democracia dentro delas não é defesa da ordem internacional; é abdicação moral travestida de prudência diplomática.
A história mostra que ditaduras raramente caem por argumentos jurídicos. Mas também ensina que o silêncio internacional, em nome de uma soberania esvaziada, cobra um preço alto. Crises migratórias, instabilidade regional e ameaças artificiais a vizinhos costumam ser os subprodutos dessa omissão.
No fim das contas, a discussão não é sobre intervenção militar, mas sobre coerência. Estados que respeitam eleições, garantem separação de poderes e preservam liberdades fundamentais não vivem sob permanente suspeita internacional. A soberania mais forte não é a que grita contra o mundo, mas a que se sustenta internamente.
Se há uma lição a extrair do caso venezuelano, ela é simples e dura: soberania sem democracia não é princípio jurídico; é retórica defensiva. E o Direito Internacional, por mais lento e imperfeito que seja, foi criado justamente para lidar com os momentos em que essa retórica já não convence ninguém.