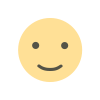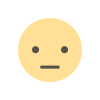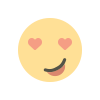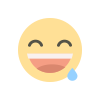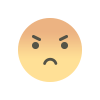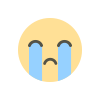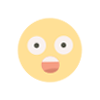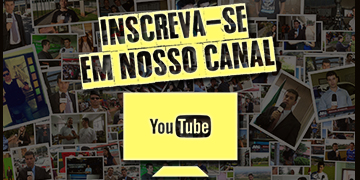Linguagem, cognição e humanidade: a arquitetura invisível que molda quem somos
A linguagem é uma capacidade humana essencial que se desenvolve desde a gestação, organiza o pensamento, estrutura a comunicação e, quando afetada, impacta profundamente o aprendizado, as relações e a identidade.

A linguagem é, sem dúvida, uma das mais extraordinárias construções humanas. Ela vai muito além da função de comunicar. Está presente na forma como pensamos, nos emocionamos, decidimos, aprendemos e nos relacionamos com o mundo. Estudar sua origem, estrutura e funcionamento é essencial para compreendermos a profundidade do ser humano em sua totalidade.
Segundo Feldman (2015, p. 259), a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas está intimamente ligada à forma como interpretamos e compreendemos o mundo. Ela é fruto do desenvolvimento da espécie ao longo do tempo e se constitui como uma capacidade cognitiva indispensável para a vida em sociedade. Nesse processo, Noam Chomsky (1965) trouxe uma contribuição revolucionária ao propor a ideia de uma gramática universal inata, argumentando que os seres humanos nascem biologicamente programados para adquirir linguagem.
A aquisição da linguagem começa antes mesmo do nascimento. De acordo com Werker, Byers-Heinlein e Burns (2010), fetos de aproximadamente 24 semanas já respondem a estímulos sonoros vindos do ambiente externo, demonstrando sensibilidade às variações rítmicas e entonacionais da fala humana. Isso indica que o aprendizado linguístico se inicia no ventre materno, influenciado pelo idioma e cultura dos pais.
Kuhl (2000) complementa esse entendimento ao afirmar que as conexões sinápticas no cérebro da criança se especializam conforme o idioma ao qual ela está exposta. Aos 12 meses, o vocabulário de um bebê pode chegar a 50 palavras. Aos seis anos, já são cerca de cinco mil. A velocidade desse crescimento é exponencial, especialmente quando há interação afetiva e estímulo verbal.
Ferreiro e Teberosky (1986), ao investigarem o processo de alfabetização, demonstraram que as crianças não apenas repetem sons ou símbolos, mas constroem ativamente o conceito de escrita. Elas passam por etapas que envolvem hipóteses sobre a função e estrutura da linguagem escrita, como o nível pré-silábico, o silábico e o alfabético. Nesse processo, é possível observar que o desenvolvimento da leitura e da escrita depende não apenas de fatores cognitivos, mas também emocionais, sociais e culturais.
Além disso, a linguagem possui propriedades estruturais essenciais. A fonologia cuida dos sons, a morfologia dos significados mínimos, a sintaxe da organização das frases, e a semântica do sentido das palavras e construções. A combinação dessas áreas permite que o ser humano expresse ideias complexas e sentimentos profundos. Uma mesma palavra, como "manga", pode designar tanto uma fruta quanto a parte de uma camisa, dependendo do contexto. Essa capacidade interpretativa é o cerne da semântica.
Mas a linguagem também pode falhar. Quando há prejuízos neurológicos ou ambientais, surgem os chamados transtornos de linguagem. O DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) descreve esses transtornos como dificuldades significativas na compreensão e produção da linguagem, podendo afetar a estrutura das frases, o vocabulário ou a fluência.
Entre os transtornos mais comuns estão a dislexia, caracterizada por dificuldades na leitura e decodificação de palavras, a disgrafia, que afeta a coordenação motora da escrita, e a disortografia, que compromete a ortografia e a estrutura gramatical. Esses quadros, segundo Miranda, Muszkat e Mello (2013), podem surgir isoladamente ou como comorbidades, afetando diretamente o desempenho escolar e o desenvolvimento emocional da criança.
Outros distúrbios incluem a dislalia, que dificulta a articulação correta dos sons, e a disartria, que está relacionada a comprometimentos neuromusculares da fala. A disfluência, conhecida como gagueira, interfere no ritmo da fala e pode surgir entre os dois e seis anos, muitas vezes sendo transitória. Já as afasias, como a de Broca e a de Wernicke, são geralmente adquiridas após lesões cerebrais, afetando a expressão e compreensão da linguagem, conforme o local da lesão.
Vale destacar o caso emblemático de Genie, uma criança norte-americana que foi privada de qualquer forma de linguagem durante mais de uma década. Mesmo após ser resgatada e receber intensa estimulação, nunca foi capaz de dominar completamente a linguagem. Esse caso ilustra o conceito de período crítico da aquisição linguística, defendido por diversos autores, segundo o qual existe uma janela temporal privilegiada para o aprendizado linguístico na infância. Após esse período, a aquisição plena da linguagem se torna altamente comprometida.
A linguagem, portanto, é uma habilidade que combina fatores biológicos, cognitivos, sociais e emocionais. Como afirmaram Mendonça e Mendonça (2011), o domínio da leitura e da escrita não se dá por mera repetição, mas por uma complexa construção simbólica, que se inicia nos primeiros contatos da criança com o mundo e é potencializada pelo convívio, pela escuta, pela observação e pela expressão.
Em síntese, a linguagem é a forma mais refinada da inteligência humana. É ela quem traduz o pensamento em palavras, quem dá forma à cultura, quem possibilita a convivência e a continuidade do saber. Estudá-la, compreendê-la e valorizá-la é investir no futuro de uma sociedade mais humana, mais inclusiva e mais consciente de sua própria voz.
Referências
-
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
-
BUDIN, J. Metodologia da linguagem: para uso das escolas normais e institutos de educação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1949.
-
CHOMSKY, N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1965.
-
FELDMAN, R. S. Introdução à Psicologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.
-
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.
-
KUHL, P. K. A New View of Language Acquisition. PNAS, 2000, vol. 97, n. 22, p. 11850–11857.
-
MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. Psicogênese da Língua Escrita: contribuições, equívocos e consequências para a alfabetização. 2011.
-
MIRANDA, M. C.; MUSZKAT, M.; MELLO, C. B. Neuropsicologia do Desenvolvimento: Transtornos do Neurodesenvolvimento. v. 2. Rio de Janeiro: Rubio, 2013.
-
VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R. Estudos sobre a história do comportamento: símios, homem primitivo e criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
-
WERKER, J. F.; BYERS-HEINLEIN, K.; BURNS, T. C. The Roots of Bilingualism in Newborns. Psychological Science, 2010.