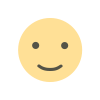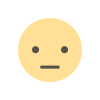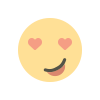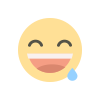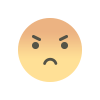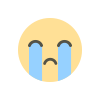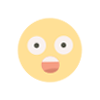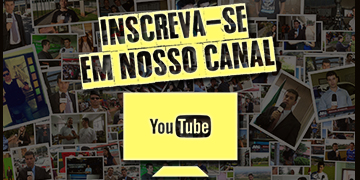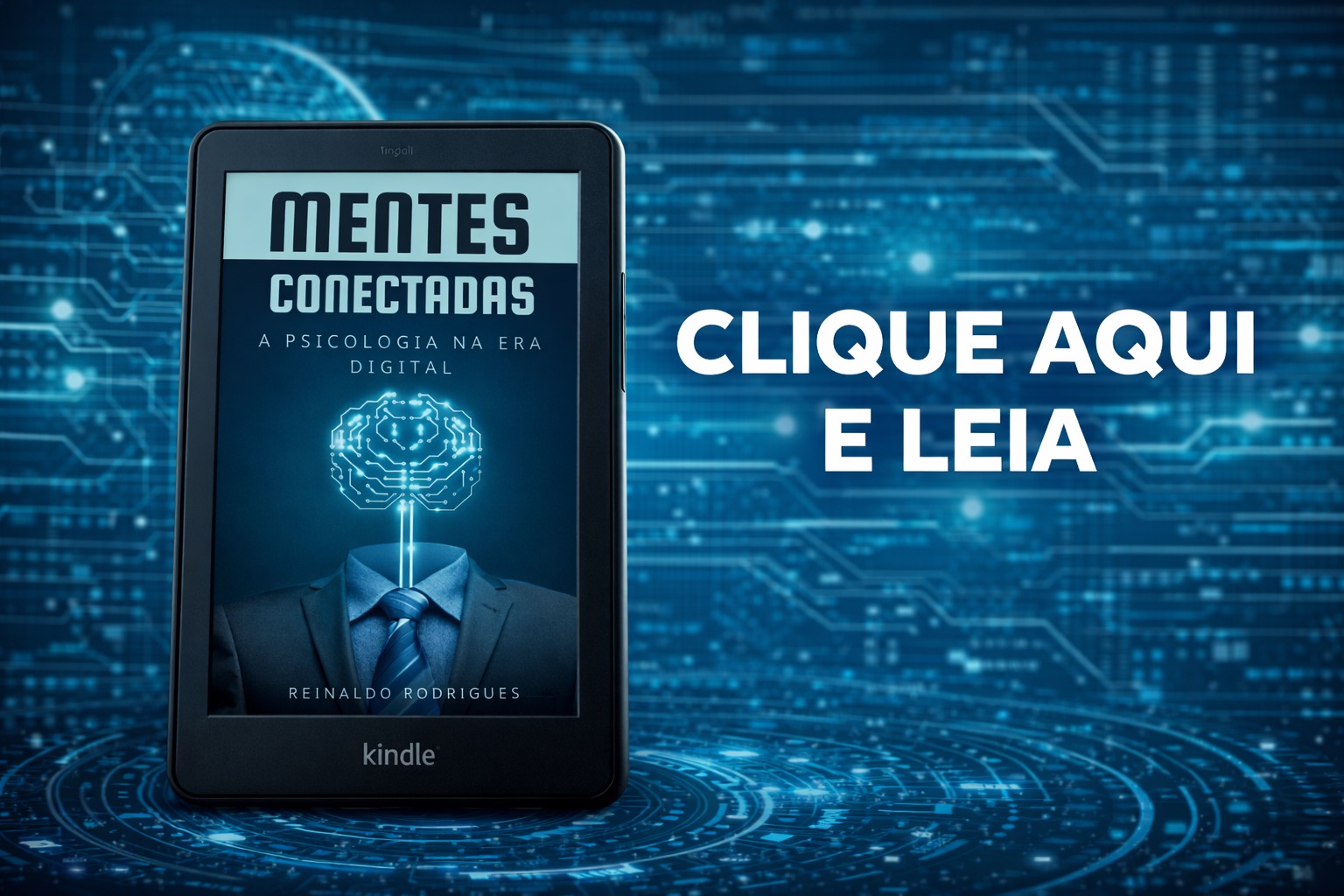Brizola, a anistia e o desafio de conter extremismos para preservar a democracia
Uma reflexão sobre as lições históricas de Brizola e a atual disputa em torno da anistia no Brasil como teste à maturidade democrática.

Leonel de Moura Brizola é um dos personagens mais marcantes da política brasileira do século XX e sua trajetória revela não apenas os caminhos tortuosos do exílio e do retorno, mas também as contradições de um país que aprendeu a duras penas o significado de democracia. Em 18 de setembro de 1977, depois de treze anos vivendo no Uruguai desde que fugira do Brasil em 1964 acusado de conspirar contra o regime militar, Brizola foi expulso pelo governo uruguaio, acusado de se imiscuir nos assuntos políticos do Brasil e do próprio país que o acolhera. Ele e a esposa voaram para Buenos Aires e, de lá, para Nova York. Há quem diga que o episódio contou com articulação da CIA e da administração Jimmy Carter. O fato é que recebeu um visto temporário nos Estados Unidos, hospedou-se no Hotel Roosevelt e, depois, transferiu-se para Lisboa, aguardando o momento da anistia que lhe permitiria regressar ao Brasil.
Ao voltar, Brizola ainda era visto pelo regime como um inimigo mais perigoso que João Goulart. Anistiado em 1979, regressou para um Brasil em transição. Instalado provisoriamente numa casa emprestada em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista emblemática no início dos anos 1980, que assisti relembrando esse fato. Nela foi questionado sobre as acusações de que recursos enviados por Fidel Castro para apoiar a guerrilha de Jefferson Cardim de Alencar Osório no oeste do Paraná teriam parado em seu arrozal no Uruguai. A resposta de Brizola condensava seu pragmatismo e sua visão política: “O que é anistia senão esquecimento, companheiro? Vamos esquecer o passado e construir o futuro, um futuro de democracia”. Ao final, pediu que fosse transmitido ao presidente João Figueiredo um recado: que ele contivesse seus extremistas que ele, Brizola, conteria os seus para que juntos pudessem construir a democracia. A história mostrou que, a seu modo, ele cumpriu essa promessa. Percebendo que o PTB histórico estava sob outra liderança, fundou o PDT e iniciou uma nova etapa de atuação política, atraindo figuras que, mais tarde, estariam à frente do trabalhismo brasileiro.
Essa memória ajuda a entender o debate atual sobre anistia no Brasil. Na semana passada, a Câmara aprovou a urgência para um projeto de anistia com 311 votos favoráveis, contra 163 e sete abstenções. O relator, Paulinho da Força, já adiantou que anistia ampla, geral e irrestrita é impossível, o que contrasta com a anistia de 1979 que perdoou crimes graves como assassinatos, sequestros, tortura e assaltos a banco, atingindo os dois lados de uma guerra interna não convencional. Essa experiência histórica serve de parâmetro para avaliar o presente: o que está em jogo agora não são crimes definidos como inafiançáveis e insuscetíveis de anistia no artigo 5º, inciso 43, da Constituição (tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos), mas sim atos classificados como crimes contra o Estado democrático de direito. O Supremo Tribunal Federal sinalizou que esses crimes não podem ser anistiados, mas a Constituição é clara ao reservar ao Congresso Nacional a última palavra sobre anistia, como lembrou o ministro Luiz Fux. Num regime democrático, o Congresso é o poder que emana diretamente do voto popular e, por isso, é o primeiro entre os Poderes.
O presidente da República já declarou que vetará eventual anistia aprovada pelo Congresso. Se o veto for derrubado, caberá ver como o Supremo reagirá. Essa tensão entre os Poderes remete ao dilema vivido por Brizola e por tantos outros na transição: como equilibrar justiça, memória e pacificação. Uma anistia mal desenhada pode se tornar um salvo-conduto para crimes inaceitáveis, mas uma negação absoluta pode perpetuar conflitos e ressentimentos, corroendo as bases institucionais.
Enquanto isso, o governo brasileiro se prepara para a Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula viaja para Nova York no dia 22 e a primeira-dama chegou antes para uma agenda que inclui debates sobre gênero, clima e a causa palestina. Esse último tema remete a outro conflito que conheço de perto. Em 1993, Yasser Arafat, líder da OLP e da Al-Fatah, e Yitzhak Rabin assinaram os Acordos de Oslo, reconhecendo mutuamente o Estado de Israel e abrindo caminho para um futuro Estado palestino na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Esse processo, confirmado em Camp David, rendeu o Nobel da Paz a seus protagonistas, mas a paz não se consolidou. Arafat morreu em circunstâncias nunca esclarecidas, Rabin foi assassinado e o Hamas tomou Gaza, transformando os palestinos em reféns de uma estratégia extremista apoiada pelo Irã. Hoje, foguetes continuam a ser lançados de áreas civis contra Israel, inviabilizando qualquer avanço real rumo a um Estado palestino soberano e pacífico.
Essa visão histórica mostra que os desafios brasileiros com a anistia não estão isolados. Assim como o conflito no Oriente Médio revelou que extremismos inviabilizam soluções negociadas, também aqui a incapacidade de moderar os radicais de cada lado pode bloquear qualquer caminho de reconstrução institucional. A lição de Brizola “segure os seus extremistas” permanece atual. Democracia não é apenas o exercício do voto, mas um processo permanente de contenção, negociação e memória que deve ser conduzido com responsabilidade para que o país não repita os mesmos erros.